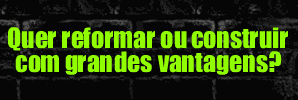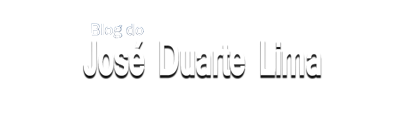“Tentavam devolvê-lo ao mar, mas ele queria a terra, a firmeza da terra, o socorro da terra, as pessoas da terra”.
Sitônio Pinto*
O golfinho foi ferido pelo hélice de um barco, a casa que os peixes da terra usam para espancar os mares. Mal ferido, Delfim procurou a praia onde os humanos brincam na água rasa. Queria socorro, perdia sangue pelo corte na cauda, as lâminas dos hélices causam feridas profundas. Ouviu dizer que um panda adoentado procurou ajuda na casa dos homens, lá nas montanhas, e dele trataram e curaram. Os humanos receberam bem o cetáceo, brincaram com ele nas águas rasas, tiraram até fotografias com seus telefones.
Mostrou-lhes o corte profundo na cauda. As pessoas lamentavam, mas nada faziam para mitigar a dor e estancar o sangue da criatura das águas. Pensava que os humanos fossem mais inteligentes, pois têm fama de serem mais perspicazes que os delfins. Se o são, porque ainda não resolveram o problema dos hélices, que tantos acidentes causam até a eles mesmos?
Tentou contar, em algumas palavras, o seu drama aos humanos que o abraçavam e fotografavam, mas nada faziam de concreto para resolver o sofrimento do irmão das águas que se tingiam de vermelho-sangue. Experimentou falar nas várias línguas de roaz que conhece, línguas dos povos dos mares em que habitam sob todos os ventos. Foi inútil, as pessoas insistiam em tirar fotografias, não viam seu ferimento e sofrimento.
Estava no raso e cansado. Deixava-se repousar sobre a areia. As outras pessoas pensavam que ele estava encalhado, mas estava apenas esgotado pela perda de sangue. Tentavam devolvê-lo ao mar, mas ele queria a terra, a firmeza da terra, o socorro da terra, a gente da terra. Eram alegres, riam, falavam, abraçavam, alisavam seu dorso, magoavam sua dor, mas ninguém tomava uma providência, uma iniciativa. Ninguém chamava o homem médico, que ele sabia existir, e por isso procurou a praia com o sangue que lhe restava.
Há homens que pescam delfins, mas, não era o caso daqueles. Não tinham anzóis nem arpões, nem redes traiçoeiras, somente máquinas fotográficas em que, às vezes, falavam como se estivessem sós, sem interlocutor visível. Deixou-se levar para a arrebentação, para mostrar que não queria voltar para o mar; queria o apoio da terra, o calor da praia, de que falavam os mais velhos no mar. Mas ninguém entendia o que dizia.
As pessoas humanas, tão engenhosas, ainda não conseguiram inventar um protetor para os hélices, algo que envolva aquelas lâminas cortantes, que ferem tanto os seres do mar quanto os da terra. Ouviu dizer que os homens já haviam decodificado dezenas de palavras das línguas de algumas etnias dos delfins; mas aqueles não compreendiam seu pedido de socorro, sua confissão de dor, sua pungente emergência. Talvez os humanos não soubessem o que era dor nem morte. Por isso, usavam aqueles hélices nas suas casas flutuantes.
Estava acostumado a ver as pessoas na praia de Sanya, “o fim do céu e do mar”, no sul da China, mas nunca tinha tentado contato com elas. Também nunca precisou daqueles álacres banhistas. Só agora, neste domingo dorido, precisou dos humanos. Eles, que inventaram o hélice, deviam saber sua cura. Mas aqueles só sabiam rir, fazer inúteis carinhos e tirar fotografias, abraçados com ele, como se o dolorido ser fosse uma estrela do mar. Breve, ele seria uma das estrelas mortas que brilham alumiando as rotas, há milênios, entre os mis luzeiros do céu.
*Jornalista, escritor, poeta, ensaísta e publicitário
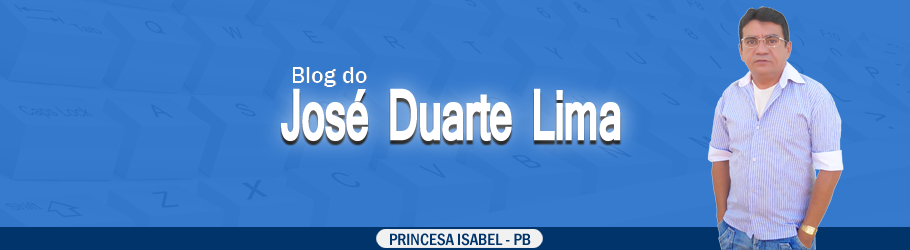









![f1c58f86-2fca-4e2f-a753-e604e2fd6cab_media_[1] f1c58f86-2fca-4e2f-a753-e604e2fd6cab_media_[1]](http://www.duartelima.com.br/wp-content/uploads/2013/07/f1c58f86-2fca-4e2f-a753-e604e2fd6cab_media_1_thumb.jpg)